Joana Ascensão, in ExpressoAos 53 anos, Isabel decidiu que não queria morrer analfabeta. O Expresso acompanhou-a durante um ano letivo no projeto + Literacia e mergulhou no problema invisível do analfabetismo em Portugal
Àquela hora naquela tarde ventosa, o dia acabava para a maioria das pessoas. Para Isabel, começava a segunda parte do seu. Estava a pé desde as seis da manhã e caminhava apressadamente para uma aula, doze horas depois de ter começado a trabalhar.
Era assim às terças e quartas-feiras, desde que, uns meses antes, escolhera desafiar a condição que cedo demais — e anos a mais — a definiu. Era analfabeta. Fora sempre o seu nome o meio.
Para Isabel, o ofício de arrumar as letras e dar-lhes significado era como um mistério. As palavras da sua história tinham ficado sempre fora de papéis. Aos 53 anos, quatro filhos depois, 23 anos de “mulher a dias” depois, e sem que a vida parecesse ter fôlego para mais desafios, decidiu aprender a ler e a escrever.
Entre as probabilidades estatísticas, o lugar de Isabel tem várias leituras. Por um lado, é uma de entre os quase 300 mil analfabetos em Portugal (3,1%). É mulher e isso faz com que tenha outras 198.393 ao seu lado (68%), para apenas 94.416 homens (32%).
Além disso, Isabel encaixa noutra minoria: a faixa etária em que o Censos de 2021 a enquadra — dos 50 aos 59 anos —, quantifica outras 24 mil pessoas analfabetas em Portugal.
Estão no cume da vida, algumas até trabalharão, mas escaparam ao ensino, foram incapazes de aprender e debatem-se hoje com uma das maiores limitações num país onde o ensino básico se dá como adquirido desde os anos 1960.
Destas, poucas encontrarão a oportunidade de estudar. As ofertas que existem excluem quase sempre quem tem de aprender tudo do zero. Como Isabel.
Naquela quarta-feira 12 de janeiro de 2022, Isabel encontrava sofregamente o caminho para a pequena sala improvisada no antigo edifício da Câmara de Matosinhos. Era o regresso às aulas dos alunos improváveis, após três semanas de férias de Natal. Só dois apareceram na sessão dirigida pela psicóloga Mónica Marques da Silva, que logo soltou a primeira tarefa: rodear as vogais com um círculo, de entre as várias letras baralhadas na folha de exercícios. Isabel atou o cabelo, cujo tom grisalho realçava na roupa de inverno. Retirou os óculos da caixa transparente. Pegou no lápis.
Já conhecia a letra A, a primeira de todas. A de ‘ajuda’, de ‘aqui’ e de ‘agora’. Socorreu-se da memória das aulas de terça-feira com a professora Ana Sofia Lopes para lembrar a caligrafia repetida das vogais num caderno, cada uma numa linha, como fazem as crianças quando precisam de se habituar ao traço na primária.
Ainda se recorda do golpe de coragem que sentiu quando pisou pela primeira vez as instalações do ‘+ Literacia’. Um primeiro atendimento tinha-lhe sido marcado por uma patroa com estudos superiores, também chamada Isabel, a quem lhe limpa a casa e a quem se viu obrigada a confessar ser analfabeta. Ao contrário das outras, desta última vez a confidência não caiu em saco-roto: “Tu és tão inteligente, Isabel, porque é que não consegues aprender a ler?”
Até que um dia, os atalhos da Internet encurtaram o caminho até à ADEIMA, a associação “dona” do projeto ‘+ Literacia’, que ensina a ler e a escrever adultos iletrados ou com baixos graus de literacia em Matosinhos.
Isabel aceitou redesenhar os esboços que tinha idealizado para o seu futuro a partir dali. Após uma vida inteira a telefonar em vez de mandar mensagem, a decorar os nomes das ruas por não lhes poder ler as placas, a confiar as cartas que chegavam a casa aos filhos e os movimentos do seu dinheiro à gestora de conta; após uma vida a desculpar-se com a falta de óculos para tirar dúvidas no supermercado, a ignorar as legendas dos filmes e a inventar as histórias dos livros dos filhos que não conseguia ler, pensou para si o que disse ao Expresso meses depois:
“Eu não quero morrer analfabeta. Eu quero morrer a ler e a escrever”.
Dedicada ao tema do analfabetismo desde os anos 1990, Carmen Cavaco não tem dúvidas: “Os analfabetos são silenciados e têm um grande problema: o direito à educação tem-lhes sido negado”. A inexistência de uma política pública para estas pessoas desde o fim do século passado deixa-as nas mãos da sorte. “São entidades da sociedade civil ou associações a preocuparem-se com a questão, com uma dimensão limitada e que desconhecem o que outros semelhantes andam a fazer”, explica a investigadora e professora do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
O que há a norte, pode não existir a sul – ninguém sabe ao certo onde nem como. “Não há sequer um sítio onde possamos ir pesquisar”, menciona Antónia Gonçalves, vice-presidente da Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos (APEFA).
Nos 10 municípios com maior taxa de analfabetismo (ver tabela em cima), só Monforte fica no Alentejo, embora esta região tenha a maior taxa de analfabetismo do país (5,4%). Em 2011, quase um em cada dez alentejanos eram analfabetos, o dobro do indicador atual.
Seguem-se a região autónoma da Madeira, a região Centro, o Algarve, os Açores e o Norte com a mesma percentagem (3%). Lisboa e Vale do Tejo concentra a menor taxa, apenas 2% da população residente, embora seja a capital a ter o maior número total de pessoas a viverem sem saber ler nem escrever.
Por falta de dados, não se pode dizer que “a escola” de Isabel é a única no país. Mas é rara. Após anos de apostas como as Novas Oportunidades, é o Programa Qualifica que, desde 2017 e com 316 centros espalhados pelo país, tem tentado responder a quem tem baixa escolaridade, entregando em organizações locais – municípios, centros do IEFP, IPSS – o trabalho de diagnóstico e a apresentação de soluções.
Contudo, para ensinar adultos até que atinjam o 4.º , o 6.º ou o 9.º anos, nas apertadas metas dos currículos de ensino, espera-se que tenham alguns conhecimentos de base. E neste caminho, dificilmente um analfabeto apanha o barco, garante Antónia Gonçalves. Para alguém assim, não há muitas soluções e as que existem - como o projeto ‘+Literacia’, de Isabel - vivem da sensibilidade local para o problema e não de “obrigação estatal”.
Chegam aos olhos de Mónica pessoas “inseguras e desacreditadas”. Em algumas, o impulso de aprender que as levou até ali desaparece depressa – e desistem. Poucas são como Isabel Carapuço. Nas aulas desta psicóloga trabalha-se a parte “cognitiva e de lógica” destes novos alunos. Para quase todos, este estímulo pode fazer a diferença, porque os cérebros dos adultos são menos “elásticos” que os das crianças. Sempre que pode, a formadora envolve nos exercícios os números e as letras que a custo se vão tornando familiares na vida dos alunos.
Na pequena sala com um cravo vermelho desenhado na parede com as palavras “A liberdade é…”, Isabel debate-se com o erro. Em vez de “branco”, leu “buraco”. Tem dificuldades em distinguir sons anasalados – e irrita-se. “Lá estás tu a inventar outra vez. Assim nunca mais aprendes”, diz a si própria em voz alta. Entre as contas de somar, os labirintos e as sopas de letras, também se ensinaram os antónimos. "Grande" é antónimo de "pequeno".
Tudo aquilo lhe lembra a infância e a adolescência. Filha de pescador e de “pescadeira”, também eles analfabetos, foi “mais ou menos pela terceira classe” que Isabel desistiu da escola para ir vender peixe com a mãe. “Não conseguia aprender e levava muita porrada da professora”, recorda.
Até que aos 15 anos ingressou numa das fábricas de conservas típicas de Matosinhos e tudo mudou: aos 16 engravidou e casou-se, por obrigação e com assinatura dos pais; teve outros três filhos. A vida só estabilizou mais tarde, depois de vinte anos a trabalhar noutra fábrica de peixe.
Quando se atirou para “trabalhar aos dias”, na “arte de limpar”, passou a ser dona do seu próprio quotidiano. Entre os nove irmãos, “uns sabem ler, outros sabem mais ou menos”. Só Isabel ficou para trás. Diz que tem vergonha. Poucas vezes o assume, mas tem.
O que sabe do “telefone prático” com teclas de antigamente serve-lhe apenas para atender e desligar chamadas. Os filhos ou o marido, “que ainda percebe alguma coisa”, leem as mensagens, tal como as cartas que lhe chegam pelo correio. Não tem conta em nenhuma rede social. Nas idas ao médico ou ao banco evita revelar as dificuldades em preencher documentos sozinha. “Eu tenho vergonha”, reforça. “Agora já nem tanto, mas antes desculpava-me com a falta dos óculos. São estas pequenas coisas que uma pessoa vai fazendo. São coisas pequenas grandes.”
Cinco meses depois do início das aulas e com a guerra na Ucrânia prestes a rebentar, o triunfo de Isabel era conseguir ler as palavras em metade do tempo.
Nessa terça-feira 22 de fevereiro de 2022, a sala da professora Ana Sofia Lopes tinha seis alunos. Na contracapa do dossiê verdade estavam a tabuada e os números, mas na cabeça de Isabel ressoavam dúvidas sobre palavras: porque é que ‘bruxa’ se escreve com ‘x’ e ‘bucha’ com ‘ch’ – logo estas que parecem irmãs? Muitas vezes, os esclarecimentos de Ana Sofia custavam a entrar, àquela hora e com o peso de um dia inteiro sobre os ombros.
Isabel é mulher de acordar cedo. Desde sempre foi assim. Pelas seis da manhã, sai-lhe das mãos “o comer fresco” que servirá de marmita para o marido que anda na construção civil. Logo vem o filho mais novo e “as coisas da escola”, ainda antes de “picar ao trabalho”, de onde só se habituou a sair dez horas depois de o dia começar.
Houve um tempo em que se deitava às duas da manhã para fazer “rissóis para fora”, mas arranjar duas horas extra no meio das correrias constantes é difícil.
“Chegando agitada, o seu desempenho não é tão bom”, garante a professora Ana Sofia. “Lidar com adultos tem disso… basta terem tido um dia mau. Enquanto o cérebro das crianças é completamente flexível, o das pessoas que nunca estudaram tem muito mais dificuldades em captar os ensinamentos.” Quando Isabel Carapuço iniciou as aulas, “vinha com muitas dificuldades, mas muito motivada”, recorda a professora. “Esse é o fator diferenciador” desta população já de si “vulnerável, grande parte dela a receber o Rendimento Social de Inserção (RSI) ou desempregada a receber Subsídio de Desemprego”.
“Vulnerável” e “desempregada” não são as melhores nem as únicas palavras usadas por Ana Sofia para descrever quem lhe chega à sala. A professora diz que, acima de tudo, são pessoas “com vergonha, com receio de alguém lhes pedir ajuda nas compras, de não conseguirem ler o que está nas prateleiras e sem noção do dinheiro que gastam”. E acrescenta: “Não saber ler faz com que as pessoas se sintam pouquíssimo autónomas”. Por isso, o trabalho faz-se letra a letra, palavra a palavra e frase a frase. Cada aula é um escudo novo que os alunos transportam para a rua. “Às vezes perguntam-me quando é que vão conseguir sair das aulas a saber ler e escrever. Eu não sei responder. Para estes alunos o resultado de um ano de trabalho pode ser conseguir ler um poema inteiro sozinhos.”
No final de março, pouco depois do começo da primavera, Isabel chegou confiante à aula. A filha mais velha tinha passado algum tempo a apoiá-la com sopas de letras no tablet. Metida numas jardineiras de ganga e com uma t-shirt branca, chegou com a tinta loura do cabelo a desmaiar.
Estava vento em Matosinhos, mas restava algum sossego na sala de aula quando a professora escreveu três palavras no seu caderno para ensaiar a leitura dos sons “lh”, “ch” e “nh” – “os mais difíceis”. Palhaço. Chupeta. Moinho.
Isabel leu-as com dificuldade. Entre pausas, voltava ao início e repetia-as até se tornarem familiares. E assim que a memória de curta duração a ajudou na tarefa, Ana Sofia pediu-lhe um ditado de palavras. A primeira foi “chupeta”, que Isabel escreveu com um “o” no lugar do “u”; apagou-a toda, para voltar a escrevê-la inteira. Seguiram-se “rolha”, “pinha”, “ninho”, “fechadura”, “agulha”.
No histórico do combate ao analfabetismo, Portugal apresenta números que não envergonham. Depois das primeiras campanhas de educação para adultos, ainda durante o Estado Novo, foi sobretudo a partir dos anos 1970 que o país desenvolveu uma verdadeira política pública de alfabetização de adultos, a par do aumento gradual da escolaridade obrigatória. Na altura, um quarto dos portugueses não sabia ler nem escrever e os resultados da estratégia foram evidentes.
De década em década, a escolarização não parou de aumentar e o analfabetismo não parou de diminuir, reduzindo para metade a cada novo recenseamento geral. Na última década, caiu de 500 mil para menos de 300 mil.
Em 2021, quase um quinto da população residente tinha ensino superior. Mas as malhas do analfabetismo ainda encontram poiso com diferente dimensão, consoante a zona do país.
Os municípios com mais gente escondem, naturalmente, mais pessoas analfabetas - em número total. Percentualmente falando, tendem a ser os do interior onde o analfabetismo mais se faz sentir, também por concentrar uma população mais envelhecida.
É na Horta que o peso dos jovens analfabetos (entre os 10 e os 20 anos) é mais alto face ao total de pessoas que não sabem ler nem escrever naquele município açoriano (3,5%), logo seguido da Ribeira Grande (3,4%) e da Lousã (3,3%).
Em Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, Açores, quase metade dos analfabetos têm menos de 50 anos (43,6%). É nos Açores onde esta proporção é maior neste grupo de pessoas — na lista dos que se caracterizam por ter mais pessoas analfabetas abaixo dessa idade, estão outros seis municípios açorianos: Lagoa (38,2%), Nordeste (29,3%), Ponta Delgada (27,8%), Ribeira Grande (27,1%), Povoação (25,3%) e Angra do Heroísmo (21,5%). Albufeira, Faro e Lisboa são os três municípios, no continente, com esses valores mais altos — em Lisboa, uma em cada cinco pessoas analfabetas tem menos de 50 anos (20,9%).
Comparando com a população em geral, na mesma faixa etária, Monforte, no Alentejo, é o município com maior taxa de analfabetismo entre os que estão abaixo dos 50 anos (4,8%). Seguem-lhe Mourão (3%), Ribeira Grande (2,7%) e Moura (2,6%).
Mas é preciso ver além dos números. É preciso usar as palavras certas para os examinar.
Para Carmen Cavaco, “nem 300 mil” analfabetos terá de ser lido como “ainda 300 mil”, “um número que, apesar de reduzido, continua a fazer-nos ficar mal na fotografia”, aponta. “Nas últimas décadas ele tem vindo a descer sobretudo pela morte das pessoas mais idosas, que estão na faixa etária que regista maior taxa de analfabetismo”.
A investigadora vai mais longe e afirma mesmo que “o Estado português percebeu que o problema se ia resolvendo com a renovação geracional. Por isso, apesar do período de grande investimento económico em educação de adultos, entre 2000 e 2012, a parte da alfabetização ficou para trás”. Educação e alfabetização não são sinónimos.
Ao Expresso, Filipa Henriques de Jesus, Presidente do Conselho Diretivo da ANQEP (Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional), assume que “não é por, em 50 anos, termos passado de 25% de analfabetos para 3,1% que temos de desistir”. “A percentagem é pequena, mas devia ser mais pequena ainda”. Contudo, a responsável explica que “para as pessoas muito pouco qualificadas as respostas são muito mais difíceis e têm de ser muito mais individualizadas”.
Perante a falta de respostas que houve até agora, o Governo decidiu disponibilizar um financiamento de projetos específicos para a “população muito pouco alfabetizada” - com menos do que o 9.º ano - com dinheiro do PRR. São €175 mil a serem distribuídos por cada um dos 225 projetos para os quais há vaga, num investimento total de €40 milhões. Houve 296 candidatos, excedeu-se o número de vagas, mas Filipa não sabe quantos desses projetos incluem um plano de ação específico para pessoas analfabetas. Os especialistas e dirigentes de organizações temem que se esqueça um problema já de si silenciado.
Na sombra de uma maioria considerável de analfabetos com mais de 75 anos, resistem outras 24 mil pessoas que não sabem ler nem escrever só na faixa etária da Isabel - dos 50 aos 59 anos.
Mais de 16 mil pessoas estão entre os 40 e os 49 anos.
E mais de nove mil entre os 30 e os 39.
Até aos 30, somam-se quase oito mil jovens analfabetos.
Como se explicam estes números num país onde os pais das crianças que faltam às aulas têm uma intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)? Carmen Cavaco esclarece.
Poderão ser jovens imigrantes, com deficiência ou incapacidades, jovens cujos pais tenham vidas itinerantes, “que mudam constantemente de escola, o que dificulta a aprendizagem”, ou jovens a quem, desde cedo, diagnosticaram problemas de aprendizagem.
“Ter acesso à escola e ter sucesso educativo são dimensões distintas. E as crianças são retiradas aos pais se faltarem à escola, mas não se não conseguirem aprender a ler”, lembra a especialista em analfabetismo.
Também quando Isabel frequentou a escola, os tempos já obrigavam a pelo menos seis anos de escolaridade, fixados por decreto a 9 de julho de 1964. Contudo, multiplicam-se as exceções dos que saíram da rede de ensino sem que ninguém os apanhasse.
“É lamentável, em pleno século XXI, continuarmos a ter pessoas a viver ao nosso lado que não tiveram direito à literacia. O Estado esqueceu-as”, diz Carmen Cavaco.
“O analfabetismo sempre foi entendido como um problema individual e não como um problema da sociedade”. O que falta, essencialmente, é vê-lo como um problema de todos. Para o presidente da APEFA, Armando Loureiro, deve começar-se por flexibilizar a duração dos cursos e os métodos, “deixando cair a ideia de que alguns meses ou um ano é suficiente para estas pessoas dominarem o básico e consolidarem os ensinamentos, ao mesmo tempo que têm uma vida, uma casa e um trabalho”. Por detrás, está uma mudança ainda mais profunda: “A ousadia do adulto que vai para a escola deve ser louvada e encorajada”.
Eram as últimas aulas. A pandemia parecia ter terminado e as máscaras faciais tinham sido largadas. As mesas, novamente organizadas em forma de “U”, promoviam o silêncio na sala em que seis alunos, de novo, esgotavam a velocidades diferentes as últimas horas de sol daquela terça-feira.
No canto superior esquerdo do quadro, evidenciava-se o local – sempre Matosinhos – e a data – sempre cambiante. Maio já havia inaugurado o calor, que Isabel afastava com um leque vermelho. Das mãos sobressaiam-lhe as veias na pele fina.
Nota-se “diferente”. Está mais confiante. Sabe ser uma questão de tempo até ler um livro sozinha. “Não é brilhar, é só ler”, retifica.
Nas legendas da televisão, já consegue encontrar um sentido. São “pequenas coisinhas” que vai apanhando. Consegue distinguir o leite condensado cozido do que está ao natural na prateleira do supermercado. E a lula da pota, nos congelados.
Sem que ninguém contasse, entre exercícios de análise de um pequeno poema e de diferenciação entre os seus versos e estrofes, Isabel verteu para cima da mesa o verdadeiro significado daquelas aulas.
Lembrou-se que também havia conseguido pela primeira vez distinguir quando a farinha era “com” fermento ou “sem” fermento. Duas palavras de apenas três letras e como podem mudar o tamanho de um bolo – e de uma vida. Os versos são as frases dos poetas. Isabel descobriu-o numa ida ao supermercado.
Créditos
Texto
Joana AscensãoFotografias
Rui Duarte SilvaVídeo
Rui Duarte SilvaEdição vídeo
José Cedovim PintoInfografia
Sofia Miguel RosaWebdesign
Tiago Pereira SantosGrafismo animado
Carlos PaesApoio web
João MelanciaCoordenação
Pedro Candeias,
Joana Beleza e
Marta GonçalvesDireção
João Vieira PereiraExpresso 2023
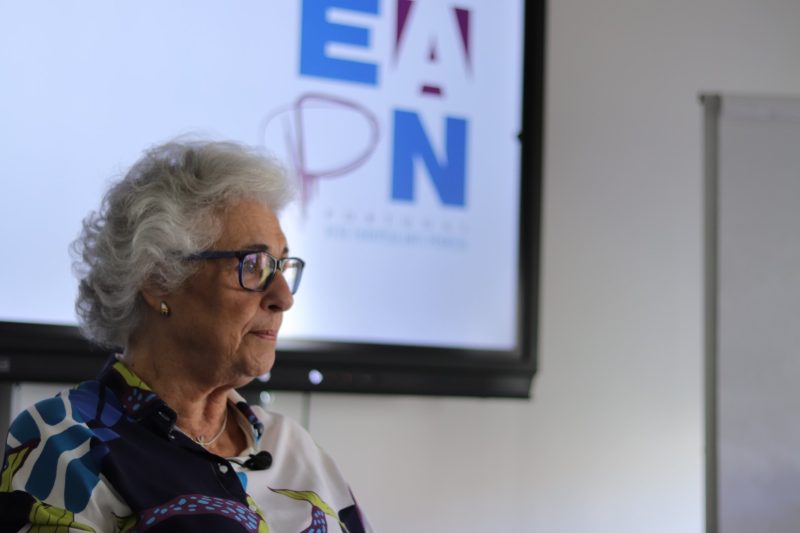 Maria Joaquina Madeira, vice-presidente Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN).
Maria Joaquina Madeira, vice-presidente Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN).



