Luísa Pinto (texto), Rui Barros (dados e desenvolvimento), Loraine Vilches (desenvolvimento) e Gabriel Sousa (webdesign e ilustração), com Sílvia Jorge e Aitor Varea Oro, in Público on-line
É pela coesão social e pelo combate à pobreza que todas as políticas têm de começar — a política de habitação também. É preciso que as políticas sociais de habitação substituam as políticas de habitação social. Sem inventar a pólvora, mas evocando a flexibilidade dos acrobatas e o pensamento estratégico dos jogadores de xadrez. E já há exemplos, inclusive em Portugal, de como é possível fazê-lo.
Há um ano que a palavra “pandemia” entrou no léxico diário do cidadão comum. A saúde pública ganhou uma maior relevância, ficar em casa foi (e ainda é) a melhor forma de nos protegermos. A preocupação com as pessoas que em casa não têm condições para viver ou para se proteger aumentou – ainda que, às vezes, por razões mais egoístas do que altruístas. Os problemas trazidos pelas carências habitacionais agravaram visivelmente os receios com a saúde pública. Mas a pandemia, é, afinal, uma sindemia, ainda que a opinião pública não tenha despertado para ela como despertou, à força, para a covid-19.
O vírus espalhou-se e cruzou-se com outras doenças e problemas de saúde, como as doenças crónicas não transmissíveis (diabetes, obesidade, hipertensão e outras), mas também com as desigualdades económicas e sociais. “[São] factores que interagem entre si aos níveis biológico, psicológico e social, aumentando a interacção negativa que leva ao agravamento das várias situações em presença, constituindo-se o que se designa por ‘sindemia’”, explica Isabel Loureiro, professora catedrática de Saúde Pública, que integra a equipa do Programa Bairros Saudáveis, uma iniciativa governamental que surgiu em resposta à pandemia, ou melhor, à sindemia de covid-19.
Foi graças a esse programa que conseguimos cruzar informações entre os dados mais recentes do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e os dados das unidades funcionais das administrações regionais de Saúde do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo. Em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública e o Centro de Estudos em Arquitectura e Urbanismo da Universidade do Porto foi possível tratar estatisticamente os dados e encontrar correlações alarmantes entre condições de habitabilidade e rendimento e condições de saúde e de doença. Os mapas juntam informações que estão presentes na vida das pessoas, mas não necessariamente nos discos rígidos dos organismos públicos que tratam delas.
Os níveis de análise são múltiplos. Não devemos falar de causa-efeito, do género “quanto mais pobre mais doente”, mas também não assumimos os resultados como coincidências. A correlação mais preocupante foi encontrada entre taxas de analfabetismo, risco de pobreza e baixa escolaridade: quanto mais frágil for o tecido socioeconómico, mais casos há de doenças como a diabetes, a insuficiência cardíaca, a doença obstrutiva coronária ou riscos de acidente vascular cerebral (AVC). E o contrário também é certo. As zonas com maiores rendimentos (e rendas) são onde se verifica menor incidência destas patologias.
Ao PÚBLICO a directora da Escola Nacional de Saúde Pública, Carla Nunes, avisava em Outubro que a pandemia estava “a bater mais nas pessoas mais frágeis”. E é pela coesão social e pelo combate à pobreza que todas as políticas têm de começar — a política de habitação também.
O Bairros Saudáveis é um pequeno programa com uma dotação orçamental de dez milhões de euros, que terá o mérito de demonstrar que as políticas públicas podem estimular a participação comunitária e confiar na capacidade de as populações interpretarem as suas necessidades e encontrarem soluções para as colmatar, tendo algum apoio financeiro para o efeito. Recebeu 774 candidaturas, e os territórios de baixa densidade, onde vive 20% da população portuguesa, foram responsáveis por 30% das candidaturas.
O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) propõe um investimento de 250 milhões de euros para a “Eliminação das Bolsas de Pobreza em Áreas Metropolitanas” e financiar operações integradas em comunidades desfavorecidas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. O PRR está a ignorar que as fragilidades do tecido social vão muito para além destas áreas metropolitanas. Se se consultar o mapa com a localização das candidaturas ao Programa Bairros Saudáveis, é possível verificar que os territórios particularmente vulneráveis se situam em todo o Portugal continental.
“O programa não conseguirá resolver as desigualdades sociais e a pobreza, porque isso depende de macropolíticas e de políticas transformativas ao nível social. No entanto, constitui um estímulo para que as populações mais vulneráveis, frente às suas realidades, sejam capazes de encontrar, em conjunto, formas de as melhorar, alavancando recursos e fortalecendo os laços de solidariedade e a coesão social”, diz Isabel Loureiro. É, pois, um exemplo, limitado e experimental, mas que já revelou capacidade de mobilizar a energia das pessoas e comunidades a quem se dirige. Através de iniciativas como esta, as políticas públicas deixam de encarar os destinatários como “públicos-alvo”, mas sim como sujeitos e parceiros das respostas a construir. Isto implica uma enorme mudança de paradigma na relação entre os cidadãos e a administração central, regional e local.
Olhar para tudo, mas de perto
Se, para Isabel Loureiro, saúde não é apenas falta de doença, a alimentação condigna não é apenas falta de fome. E, como acontece com as dificuldades de acesso à habitação, as carências não se limitam, necessariamente, às situações de pobreza e precariedade extrema – mas têm aí um impacto especialmente severo. Sara Rocha, membro da Realimentar – Rede Portuguesa pela Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, destaca que “a pobreza alimentar é uma dimensão específica da pobreza”. “É a dificuldade de adquirir e consumir alimentos em quantidade suficiente e de qualidade adequada. Factores como o aumento do custo de vida e as despesas com habitação, electricidade, a par com salários baixos e precariedade laboral, têm um impacto muito significativo na capacidade de aceder a uma alimentação adequada”, enumera.
Sara Rocha sublinha a dimensão sistémica do problema, frisando que as condições de vida de todos, especialmente dos grupos vulneráveis, são resultado de uma construção social mais alargada. Questionada sobre os problemas mais prementes, refere três. Primeiro, a falta de dados que impossibilita um debate informado e substantivo em torno das carências, percebendo quem fica de fora. Segundo, a dificuldade de agir dentro de um quadro estável capaz de sobreviver aos ciclos políticos e de guiar a acção a nível local — “É fundamental haver uma lei de bases da Alimentação”, alerta. Terceiro, a dificuldade de construir um espaço em que quem está no terreno, que conhece bem as limitações das famílias, possa expô-las e participar na melhoria da situação.
Estas preocupações não andam muito longe das de Helena Amaro, advogada, actualmente a fazer um doutoramento na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto nas áreas de Forma Urbana, Padrões de Mobilidade e Mobilidade Social. A investigadora, que também alerta para a necessidade de uma mudança de paradigma, não poupa críticas ao “maior investimento público em habitação” inscrito no PRR de que falámos no terceiro trabalho da série — 1251 milhões de euros em subvenções para financiar a solução para 26 mil famílias em carência habitacional e 186 milhões de euros para criar a Bolsa Nacional de Alojamento urgente e temporário. “É partir de uma premissa errada — recuperar o ponto onde estávamos —, em vez de assumir uma ruptura e mudar o que estava mal”, afirma.
Helena Amaro tem desenvolvido muitos estudos em torno da relação entre mobilidade e rendimento. “Primeiro faz-se um conjunto de casas onde o terreno é mais barato, depois é preciso arranjar um meio de transporte para que as pessoas possam ir trabalhar. Os layers de decisão estão todos ao contrário”, contesta. A investigadora argumenta que, uma vez que a habitação e as políticas de mobilidade são duas das principais dimensões em disrupção na paisagem, deviam estar articuladas com uma política pública de paisagem, a partir da qual se definiam todos os planos, convocando, como também reclama Sara Rocha, quem habitualmente não participa nestes debates. Neste caso, geógrafos, sociólogos e paisagistas.
Segundo Helena Amaro, a não resolução destes problemas atinge todos e não apenas quem com eles sofre directamente: “A factura do que não investimos em habitação ou mobilidade acabará por aparecer em outras rubricas orçamentais, nomeadamente nas da saúde pública.” Esta afirmação é partilhada uma vez mais por Sara Rocha, que destaca que, já antes da crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19, o Serviço Nacional de Saúde gastava grande parte do seu orçamento a tratar doenças como a obesidade, hipertensão, vários tipos de cancro e doenças crónicas, cardiopatias e diabetes, associadas a um padrão alimentar que resulta de um sistema globalizado, insustentável e prejudicial. Esta situação é inevitável?
Alguns exemplos ilustram bem tanto a paisagem descrita, como a possibilidade real de se iniciar uma mudança de paradigma. É o caso das chamadas “ilhas” do Porto, estruturas habitacionais localizadas no interior dos quarteirões e compostas por casas diminutas, de aproximadamente 20m2 e precárias condições de habitabilidade. Estas casas, originárias da Revolução Industrial, subsistem ainda em grande número — 957 “ilhas” dão actualmente alojamento a cerca de 10.370 pessoas. Falamos de uma população envelhecida, com poucos rendimentos e baixas qualificações literárias, para quem as “ilhas”, embora precárias, permitem viver no centro da cidade. Mas qual o preço a pagar pela localização?
Um estudo realizado em 2019 a partir de uma parceria entre a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e o Plano Local de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental dá-nos três dados relevantes. Entre os inquiridos, 27% estavam expostos a amianto, 89% não tinham isolamento térmico e 46% não tinham sanita com autoclismo. Em comparação com os dados da Região Norte, estes moradores apresentavam um risco oito vezes superior de desenvolver um AVC e 1,9 vezes de sofrer de problemas respiratórios. A relação entre as condições de vida e a saúde era atribuível à habitação em até 88% dos casos de AVC e 48% dos problemas respiratórios identificados. A totalidade destas situações seria evitada, se a reabilitação e qualificação das casas fosse garantida.
Para perceber as implicações desta intervenção na habitação, recorremos a um segundo estudo encomendado em 2017 pela Câmara Municipal do Porto. Teoricamente, a estratégia para qualificar as casas é simples: aumentar as suas áreas, garantir iluminação e ventilação natural em todos os compartimentos, reduzir as barreiras arquitectónicas e diminuir o número de fracções.
Mas se os ganhos na redução das desigualdades e do risco de doença e de pobreza são claros, a dificuldade de concretização é notória. Do lado dos proprietários, é preciso assegurar o acesso ao financiamento para custear obras tão profundas. Do lado dos inquilinos, é preciso ter em mente que 37% deles tinham uma taxa de esforço com a habitação inferior a 30%. O previsível aumento das rendas decorrente da intervenção faria com que o número de agregados com uma taxa de esforço superior a 40% mais do que duplicasse, chegando pelo menos aos 63% do universo total. Como acautelar este cenário?
A harmonia das partes dissonantes
Os anos de 1877 e 1871 marcam dois acontecimentos relevantes para a nossa história. O primeiro refere-se ao momento em que a Câmara Municipal do Porto encomendou ao militar Augusto Telles Ferreira a sua célebre carta topográfica, que, publicada em 1892, registava a existência de uma grande quantidade de “ilhas” na cidade, dando conta da dimensão do fenómeno. O segundo diz respeito à primeira medida de habitação social que se conhece, que entrou em vigor há precisamente 150 anos, no dia 28 de Março de 1871. Na sequência de uma grave crise económica e social, muitos inquilinos do XI Arrondissement, um bairro integrante da Comuna de Paris, deixaram de ter condições de pagar a renda e arriscavam-se a ser despejados. Influenciado pelo pensamento de Pierre-Joseph Proudhon, e defendendo a decisão como uma questão de justiça social, o presidente da comuna impediu que as rendas de habitação continuassem a ser cobradas, aceitando pagar um terço das rendas aos proprietários mais carenciados.
Estes dois acontecimentos servem-nos para questionar até que ponto a resolução do problema habitacional passa por inventar coisas novas ou recorrer ao passado para um novo entendimento. A própria história das “ilhas”, que nos serve aqui de referência, é cíclica, marcada ora por tentativas de erradicação, ora de valorização. Nenhuma das duas alternativas se conseguiu impor no terreno, perpetuando, 150 anos depois da génese deste fenómeno, condições de vida precárias para cerca de 5% da população portuense. Contudo, alguma coisa parece estar a mudar.
Nas palavras de Pedro Baganha, vereador do Urbanismo da Câmara Municipal do Porto e também presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) portuense: “É mais racional intervir reabilitando estes tecidos do que mandar estas pessoas para a periferia da cidade. A estratégia agora tem de ser reabilitar estes núcleos. A Rua de S. Vítor [onde coexistem várias ‘ilhas’ contíguas] não se compreende se não tiver esta densidade, vivência e relações de vizinhança. O que tem de ser erradicado é a miséria. Não as ‘ilhas’”, insiste.
A mudança de paradigma, da total erradicação a uma visão integrada, remonta a 2014, tendo sido desenvolvidas várias experiências que as consagram como parte da solução e não como parte do problema. Por um lado, inicia a reabilitação das “ilhas” de propriedade municipal, de que é exemplo a feita na ilha da Belavista. Por outro, há um reconhecimento da importância destes núcleos na Estratégia Local de Habitação do Porto, viabilizando o acesso a financiamento para novas intervenções no âmbito do programa Primeiro Direito. Finalmente, em conjunto com o Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, desenvolvem-se estratégias que permitam passar das políticas às práticas e viabilizar a operacionalização (e a sustentabilidade) desta mudança de paradigma.
O maior entrave a ultrapassar, recorda Baganha, é que das actuais 957 “ilhas” apenas três são municipais. Todas as outras são privadas, têm situações diversas e pedem soluções distintas. “Há ‘ilhas’ que têm mesmo de ser erradicadas, outras podem ser alvo de adaptação, e a maior parte delas passará por uma questão de salubrização daquelas condições de vida”, afirma o vereador. E em muitos casos os proprietários têm condições de pobreza tão difíceis quanto os seus inquilinos. Mas, se a esmagadora maioria das “ilhas” são privadas, a câmara não pode intervir neste património e alguns proprietários são tão carenciados como os inquilinos, como assegurar simultaneamente o financiamento das intervenções e a permanência dos moradores?
Quando a SRU foi municipalizada, foram alterados os estatutos da empresa municipal para que ela incorporasse habitação acessível e o problema específico das “ilhas”. Na frente aberta em torno da intervenção nas “ilhas”, em conjunto com a Faculdade de Arquitectura, o município chegou a um conceito de intervenção que, defende o vereador, é, pela primeira vez, viável a todos os níveis. “Há uma componente expressiva de financiamento a fundo perdido; e a componente de empréstimo acabará por ser paga com as rendas a cobrar.” A estratégia, portanto, deverá agir tanto do lado da oferta, como do lado da procura.
Para garantir o acesso a financiamento, que viabiliza a melhoria das condições de habitabilidade e a qualificação do território, a câmara assumirá o papel de intermediário entre os proprietários que queiram reabilitar as suas “ilhas”, através do programa Primeiro Direito e o IHRU. O caminho parte do trabalho desenvolvido no terreno por algumas juntas de freguesia e entidades do terceiro sector, como o programa Habitar Porto, “dando assistência técnica (arquitectónica e burocrática), apontando caminho aos proprietários”. “Teremos uma equipa técnica que diz logo qual é a expectativa de uma obra que pode ser aprovada pela câmara municipal. E identificando os destinatários finais dessas casas — que é uma das imposições do programa Primeiro Direito”, explica.
É aqui que entra a segunda vertente de apoio desta experiência-piloto. A câmara arrenda esses fogos e depois subarrenda-os, indo buscar os inquilinos sinalizados como estando em carência habitacional. “Não há objectivo de lucrar com a operação. Por isso, e no caso de existirem famílias que não consigam pagar as rendas, a câmara entra com uma componente de subsídio à renda”, adianta Baganha, limitando o número de beneficiários aos 140 anuais. A inovação não passa, neste caso, por inventar soluções de raiz, mas antes por gizar uma solução entre dois programas que a câmara já tem: o Porto com Sentido (de habitação acessível) e o Porto Solidário (de subsídio às rendas).
A principal vantagem desta abordagem é que garante a permanência dos moradores após a intervenção e traz mais-valias a todos. Pela primeira vez, o proprietário empobrecido de uma “ilha” tem possibilidade de a reabilitar, sem qualquer custo. Os inquilinos passam a viver numa casa com condições de salubridade e a suportar uma renda condizente com os seus rendimentos. Por fim, o município diminui parte dos três mil casos de carência habitacional identificados na sua Estratégia Local de Habitação.
Mas Baganha não esconde algumas preocupações, nem segura as críticas “ao Estado central que está sempre a alterar programas e leis” — referindo-se às mais recentes alterações ao Primeiro Direito, conhecidas recentemente. “Parem de mexer nos programas!”, pede o vereador, dizendo que uma habitação não demora menos de três a quatro anos a ser terminada. “Deixem ao menos esgotar um ciclo de produção, senão nunca chegamos a conseguir testar nada”, critica. Com as novas regras introduzidas ao Primeiro Direito, o proprietário da casa reabilitada ou construída ao abrigo deste programa deve manter as rendas controladas durante 20 anos, e não 15 como inicialmente previsto. Talvez muito para um proprietário. Talvez insuficiente para a cidade, que daqui a 20 anos poderá estar novamente com um problema de habitação em mãos. Sinal, afinal, de que uma política de habitação é feita de várias abordagens em simultâneo, implica o envolvimento e participação de todos os intervenientes e está longe de ser fechada. Como ir mais além?
De uma política de habitação social a uma política social de habitação
A Nova Geração de Políticas de Habitação, lançada em 2017, propõe aumentar o parque habitacional com apoio público de 2 para 5%, mesmo assim longe de outros países europeus, como a Áustria, onde 25% do parque habitacional é público. Em entrevista ao jornal espanhol El Diario.es, o geógrafo Justin Kadi e a economista Sarah Kumnig, desvendam alguns dos pormenores da política de habitação aí conduzida. “O debate não é se precisamos de controlar os arrendamentos ou habitação social. Há consenso de que os dois são necessários”, referem estes investigadores. “Quem possui o solo, um recurso limitado, controla a cidade”, destacam, daí ser importante regular o preço do solo público e privado.
Yves Cabannes, Professor Emérito da University College of London, e com mais de 40 anos de experiência na área da habitação e da participação, corrobora esta ideia. “O segredo é dissociar o valor fundiário da habitação. É a localização que mais influencia o valor final de um imóvel e lhe dá um carácter especulativo. Se o retirarmos da equação, o problema resolve-se”, explica. Mas como alterar então as variáveis da fórmula que impede, ou facilita, o acesso a uma habitação condigna a longo prazo?
O investigador sai do domínio da teoria e do abstrato, dando conta de experiências no terreno desenvolvidas há já algumas décadas, e que demonstram a viabilidade e sustentabilidade do modelo que defende. Refere-se aos Community Land Trust (CLT), espalhados em vários países da Europa e do mundo, incluindo o mais liberal e capitalista de todos, os Estados Unidos da América, argumenta Yves Cabannes.
Trata-se de um sistema que aprofunda o movimento cooperativo que conhecemos em Portugal, para lhe dar um carácter mais fundacional. Assenta num poder tripartido, dividido entre quem adquire ou aluga uma casa nesse CLT, quem não o habitando se quer associar à causa, e quem representa o interesse/poder público. Este tripé sustenta a propriedade do solo colectiva, garantida através de doações ou de políticas públicas dirigidas para a regulação do mercado.
Portugal tem um vasto parque habitacional devoluto e desocupado — dados do INE apontam para cerca de 730.000 casas vazias no país —, parte dele pertence ao Estado e à Santa Casa da Misericórdia, por exemplo. A este banco de imóveis somam-se ainda os baldios, parte deles localizados em áreas urbanas, destaca o investigador. Serão estas oportunidades para arrancar com um projecto-piloto desta natureza no país?
As estruturas associadas aos CLT funcionam como administradores e garantes de habitação de longo prazo, garantindo que ela vai permanecer genuinamente acessível — “isto é, com base no rendimento das pessoas, e não com base no valor que a propriedade tem no mercado”, ressalta o investigador.
Esta ideia de “acessível” distancia-se daquela em que se baseia o Programa de Arrendamento Acessível, cujo cálculo parte do valor mediano do mercado em determinado lugar, não dos rendimentos dos beneficiários. Como vimos no terceiro trabalho desta série, mesmo 20% abaixo dos valores de mercado, o preço da habitação permanece inacessível para muitos.
“Quem entrar num CLT sabe que não poderá arrendá-lo ou vendê-lo a valores especulativos”, explica Yves Cabannes. Por um lado, não se especula. Por outro, quem tem rendimentos abaixo da média não vive em constante ameaça de despejo ou aumento de renda para lá das suas possibilidades. “Os moradores dessas casas não sofreram nada com a crise do subprime”, assegura. Esta é uma das fórmulas que garante segurança de acesso à habitação e subverte a vulnerabilidade e precariedade que caracterizam o actual mercado e sistema habitacional dominante.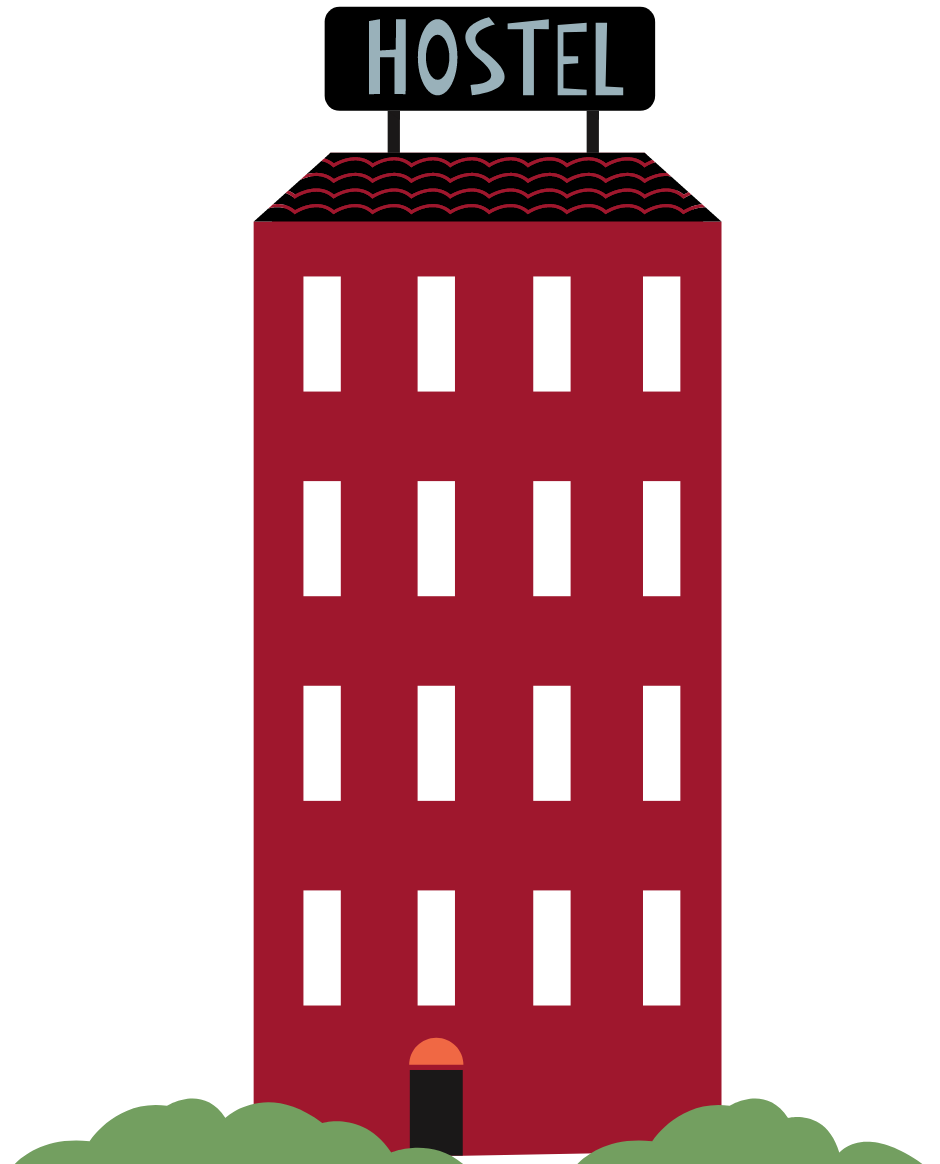
Simultaneamente, retirando o valor fundiário da equação e comprometendo diferentes intervenientes na solução — o poder público, os privados e a sociedade civil — também se abre espaço a visões mais abrangentes.
Como preconiza a Nova Geração de Políticas de Habitação e a Lei de Bases da Habitação, permite-se passar da habitação ao habitat, ou seja, “de uma política de habitação social para uma política social de habitação”, concretiza Yves Cabannes. A pandemia reitera esta necessidade. A habitação precisa ser encarada, não apenas como um tecto e quatro paredes, mas também como espaço de trabalho, de educação, de lazer e de garante da saúde pública.
Não se trata de um jogo de palavras. As políticas de habitação social têm-se limitado a construir fogos e a amontoar pessoas em gavetas, independentemente do sítio onde trabalham, ou onde podem ir buscar rendimento e alimento. As políticas sociais de habitação colocam as pessoas, e as suas necessidades, no centro da equação, ampliando assim o entendimento de habitação e de habitabilidade. “A habitação hoje, e no futuro, tem de considerar as novas necessidades, como as exigências climáticas, como a reciclagem de águas ou a poupança de energia, mas também as do teletrabalho, por exemplo. A casa tem de assumir a sua função produtiva e não meramente reprodutiva”, defende.
De um somatório de programas à concretização de políticas
Não descobrimos a pólvora — Sérgio Godinho anda a cantá-la desde 1974, quando lançou o álbum Liberdade. “Só há liberdade a sério / Quando houver / A paz, o pão, habitação / saúde, educação.” Mantendo-nos neste ano charneira, vale a pena recordar a proposta de regulação do mercado de arrendamento, feita no âmbito do PREC pelo então secretário de Estado Nuno Portas, não tanto pelas propostas, mas pelo contexto em que surge.
Falava-se, na altura, de “[um] processo de alta especulativa na oferta de habitações, patente sobretudo nas cidades e áreas metropolitanas, onde as crescentes necessidades de alojamento da população conduziram o sector imobiliário [...] à prática de preços que se sabe não acompanharem os custos reais de produção”. Reconhecia que repor o congelamento das rendas em todo o país não ia, por si só, solucionar o problema da habitação, designadamente a “imediata obtenção de habitações acessíveis aos níveis de rendimentos da maioria da população trabalhadora”. Mas era uma medida necessária, de carácter transitório, enquanto se resolviam os problemas estruturais que assolavam o país. Neste sentido, enumerava um conjunto de aspectos a considerar em legislação e programas públicos futuros: “A aquisição pública e urbanização de solo suficiente e a baixo custo; o financiamento e incentivos a empresas privadas e a cooperativas de moradores; a regulamentação do regime de renda limitada, e o forte incremento dos programas de construção directa de novos conjuntos habitacionais pelas entidades oficiais.”
Volvidos 47 anos desde a publicação deste decreto-lei, e cada vez mais próximos da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, o direito à habitação consagrado no artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa continua por garantir. Como constata Helena Roseta, é preciso intervir em pelo menos quatro frentes: na diversidade e articulaçãocoerente das ferramentas que integram uma política de habitação; no reconhecimento de um país plural e diverso; na continuidade das linhas mestras dos programas traçados para lá dos ciclos políticos; e no reconhecimento e inclusão de novos e diferentes actores.
Ao nível das ferramentas, é possível recorrer a medidas de promoção e gestão da habitação pública, tributárias e de política fiscal, de apoio financeiro e subsidiação, legislativas e de regulação, como exposto na Lei de Bases da Habitação. Passíveis de serem usadas por governos de diferentes espectros políticos, implicam, contudo, coerência — por exemplo, nem os incentivos fiscais se podem limitar à simples qualificação do edificado, nem o subsídio à renda pode servir para inflacionar os valores do mercado ou deturpar as suas fragilidades.
É necessário que as políticas públicas contribuam para uma sociedade mais coesa, o que exige reconhecer a diversidade de situações e realidades existente. Embora a actual crise na habitação assuma particular expressão nas áreas urbanas, nomeadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, o resto do país é mais do que “paisagem”. É preciso estar atento à diversidade das dinâmicas demográficas e territoriais e às desigualdades habitacionais que as próprias políticas públicas podem desencadear, quando não garantida uma distribuição equitativa dos recursos e investimentos públicos.
O alcance destas metas implica políticas de continuidade, que não podem acabar quando a verba dos programas ou os ciclos políticos de quatro anos que as suportam chegam ao fim. Qualquer investimento público na habitação leva tempo a dar frutos. Neste sentido, ressalta-se a importância de um compromisso nacional, validado pelo Parlamento e objecto de uma avaliação regular, de acordo com o Programa Nacional de Habitação, exigido na Lei de Bases de Habitação, mas que tarda em ser apresentado.
Por fim, as políticas públicas podem criar um espaço operacional particularmente comprometido com as necessidades e recursos reais, articulando a esfera local e central. Por um lado, assegurar uma maior sinergia entre as políticas de habitação e as políticas sociais, evitando tomadas de decisão avulsas e desarticuladas. Por outro lado, dar as boas-vindas a actores geralmente excluídos do debate e da solução por razões de natureza legal e/ou burocrática.
Como se viu ao longo deste trabalho, a habitação constitui uma base material imprescindível para a redução das desigualdades sociais e dos riscos que acarretam. A sua produção não pode ser lida de forma isolada, dissociada do conjunto de factores que determinam o espírito de cada tempo e a realidade de cada lugar. Não é o mesmo produzir e garantir habitação durante a ditadura salazarista ou na Europa globalizada de hoje — mas as duas assumem um mesmo princípio: as decisões decorrem de um balanço entre o protesto e a proposta, segundo diferentes pesos, medidas e riscos. Uns momentos serão seguramente mais propícios, outros adversos, mas dificilmente ideais.
Às vezes, poderemos recorrer aos instrumentos que já existem, noutras ocasiões inventar estratégias e estruturas de raiz, noutras ainda aplicar ambos em simultâneo. Às vezes, poderemos recorrer à mentalidade do acrobata, noutras situações dar-nos ao luxo de assumir a paciência e argúcia de um jogador de xadrez. Estes dois personagens foram-nos trazidos por Helena Amaro, citando João Ferrão. O geógrafo afirmou tratar-se de uma ideia de outrem tida num contexto diferente — “aquelas coisas que lemos algures e que nos parece bem visto”. Autorias e enquadramentos à parte, interessa garantir que não se perde o fio à meada. É que isto, para continuar na discografia de Godinho, anda mesmo tudo ligado.
SOS
"Era imprescindível chegar a quem sofre por causa da falta/subversão das políticas públicas de habitação ou, pior ainda, a quem acaba por corroborá-las por puro sentido de indiferença"![]()
![]() Sílvia Jorge e Aitor Varea OroArquitetos
Sílvia Jorge e Aitor Varea OroArquitetos
A ideia “Do Protesto à Proposta” nasceu em março de 2020, há um ano, em pleno estado de emergência. A aproximadamente 320km de distância, um em Lisboa, outro no Porto, o projecto foi ganhando forma via Skype, à medida que percebíamos que a interrupção da atividade económica e a máxima “fique em casa” deixariam, num país onde a precariedade habitacional está fortemente ligada à precariedade laboral e salarial, uma larga camada da população por sua conta e risco. Profundamente sós. E, como lemos algures, “todos na mesma tormenta, mas nem todos no mesmo barco”.
Ambos arquitetos de formação, um mais ligado à investigação, outro mais à prática, sentimos a obrigação de contribuir de alguma forma para que os problemas da habitação entrassem na ordem do dia e aí permanecessem até se encontrarem respostas. Era urgente falar sobre pessoas e situações habitacionais concretas que só aparecem no discurso público sob a ótica da estigmatização. Era importante dar o megafone a pessoas de elevado rigor e comprometimento técnico, cujas opiniões e experiência se esbatem nos burocratizados espaços da função pública e da academia. Era imprescindível chegar a quem sofre por causa da falta/subversão das políticas públicas ou, pior ainda, a quem acaba por corroborá-las por puro sentido de indiferença, por não saber da sua importância ou por não aceder a informação que permita formar uma opinião fundamentada.
Não tínhamos dúvida das limitações dos formatos dos relatórios e artigos científicos com que lidamos diariamente, geralmente dirigidos aos pares, não ao comum dos mortais, descartando por isso essa opção. Chegámos rapidamente à conclusão que atingir estes objetivos a partir de um meio de comunicação, por via de uma narrativa direta, simples e atraente, era não só possível como saudável. Desconfiamos (desconfiem) de quem emprega sempre uma linguagem demasiado opaca e tecnocrata. Refém dos quadrantes ideológicos e dos catecismos disciplinares, esta linguagem acaba por ocultar a existência de um problema transversal à sociedade, mas também as suas causas. Leva-nos a crer que é possível resolver a crise atual recorrendo à mesma fórmula que a criou. Em suma, afasta a participação de uma maioria, impede que as coisas mudem.
Intuímos que a clareza expositiva obtida graças à dedicação e profissionalismo dos jornalistas Luísa Pinto e Rui Barros permitiu chegar ao quotidiano das pessoas e contribuir para que a ciência cumpra a sua função social. Se no almoço de domingo a sogra explicou ao genro que os problemas de habitação em Portugal acompanham o que se passa pelo mundo fora; se um albicastrense sentiu que o seu município estava no mesmo radar das áreas metropolitanas; se proprietários e inquilinos perceberam melhor porque é que os programas criados não chegam a eles; se pelo menos dois ministros se reviram no impacto que o afastamento das suas pastas tem nas contas públicas, então o alerta que lançámos pode ter servido para assumir que temos um problema e que só podemos resolvê-lo se o abordarmos assertivamente. E juntas/juntos.







